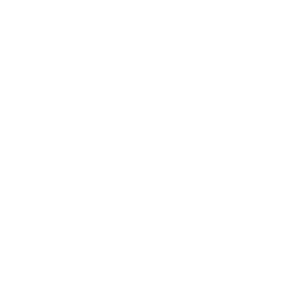Depois de séculos de exploração gratuita do trabalho doméstico e reprodutivo, Bela Gil, 35 anos, sabe que soa utópico falar em remuneração de mulheres ensinadas a servir, como se “por amor”. Mas ela insiste. Onde enxergam amor, a chefe de cozinha, apresentadora e escritora vê abuso: mulheres geram, cuidam, e são excluídas do sistema que, sem elas, seria impossível.
No recém-lançado livro Quem Vai Fazer essa Comida? [Editora Elefante|184 páginas], Bela esmiuça temas quase alheios aos livros de culinária. Se a alimentação saudável requer que desembrulhemos menos e descasquemos mais, é lógica, para Bela, a necessidade de complexificar o debate sobre os trabalhos domésticos e reprodutivos, seja limpar a casa ou cuidar dos filhos – que recaem sobre as mulheres, historicamente.
Valorado por economistas, esse serviço corresponde a 13% do Produto Interno Bruto mundial anualmente, segundo dados apresentados no livro. Na matemática de hoje, nada retorna às donas de casa, a quem caberia ao Estado remunerar, idealiza Bela.
“É simples entender por que esse trabalho não é reconhecido: para que o sistema capitalista continue acumulando. Existe uma diferença entre querer dar e isso ser imposto “.
Mas a ideia da remuneração é mais uma provocação, acompanhada de reflexões sobre o papel do Estado na redistribuição das tarefas (como a criação de creches gratuitas), a emancipação, o feminismo que exclui mulheres negras do debate e a valorização da alimentação natural como caminho para o reconhecimento do trabalho doméstico.
Todas as ideias de Bela começam e terminam na liberdade. Mãe de dois filhos, Flor, de 14, e Nino, de 5, ela leva essa busca pela emancipação plena para o rebento. “Tento criar com um olhar libertador”.
Em entrevista ao CORREIO, por videochamada, na última terça-feira (9), Bela Gil destrincha as peças que nos trouxeram até aqui. O caminho exige desatar mitos, mas ela ajuda a entender o percurso.
CORREIO: Todos nós precisamos de cuidados, até para desenvolver nossas conexões psíquicas, definir quem somos no mundo. De onde vem a desvalorização do trabalho do cuidado, onde perdemos esse senso ?
Bela Gil: A gente perdeu muito com o advento do capitalismo. Porque o trabalho do cuidado tem muito da sabedoria subjetiva da mulher. Não por acaso, a caça às bruxas aconteceu na transição entre o feudalismo para o capitalismo. Silvia Federici fala muito sobre isso no livro dela, Calibã e a bruxa.
Foi nesse momento em que, para o capitalismo dar certo, a pessoa precisava absorver a ideia de que o corpo dela é uma máquina e seria explorado conforme o capital quisesse. Para essa pessoa, se vender em troca de salário era uma ideia muito absurda na época.
Hoje em dia, não, é dado: a pessoa nasce e sabe que em algum momento vai ter que se vender para ganhar dinheiro. Chama-se trabalho remunerado [risos]. Mas essa era uma ideia muito nova. E para dar certo, tiveram que matar, queimar, toda a subjetividade humana que estava no feminino e também relacionada à coisa do cuidado, aos trabalhos não remunerados.
Foi exatamente aí que aconteceu a ideia de que a gente poderia se vender para produzir coisas para o capital. E aí, obviamente, o trabalho doméstico foi desvalorizado e invisibilizado.
“Sem o trabalho do cuidado, nenhum outro trabalho é possível. Mas a gente acaba fazendo esse trabalho de graça – trabalho que foi valorado por economista como 13% do PIB mundial, são mais ou menos 11 trilhões de dólares que geramos por ano”.
A gente trabalha de graça, produzimos a força de trabalho de graça, e continua cuidando. Depois da mãe, a filha , depois a esposa. Tem sempre alguém cuidando de alguém para alguém acumular dinheiro. É muito simples entender por que esse trabalho não é reconhecido: para que o sistema capitalista continue acumulando. A minha reivindicação pela remuneração do trabalho doméstico é simplesmente pela divisão justa do trabalho.
Esse trabalho foi propositalmente não remunerado para o sistema continuar crescendo, explorando a generosidade feminina, tanto da mulher quanto da terra. É bem claro. Depois de escrever esse livro, deu para entender claramente para onde querem nos levar [risos].
No livro, há paralelos entre nosso corpo e a terra. Fala-se de como exploramos a terra, que nos “dá” o preciso e as mulheres. Você relembra uma pesquisadora para falar em “aceitar a generosidade da natureza sem explorá-la”. E é possível a nós, mulheres, mostrar generosidade sem soar que é da nossa “natureza”?
Tudo bem parecer que somos generosas. A gente só tem que mostrar que não queremos ser exploradas. Existe uma diferença grande entre querer dar, escolher dar, e isso ser imposto como algo que você tem que fazer. Já passou da hora da gente justificar comportamentos sem ser pela biologia. Hoje, evoluímos bastante.
O homem das cavernas tinha aquela coisa de sair para caçar, ser o produtivo, e a mulher ficava em casa, cuidando da cria, por uma questão biológica de cada sexo. Porém, isso não se justifica mais, estamos a um clique da comida, por exemplo. Cabe a nós, mulheres, entendermos que fomos e somos exploradas.
Um dos pontos que trago no livro é mostrar a importância da valorização do trabalho do cuidado e doméstico.
“As pessoas precisam saber que fazemos isso não por amor, mas porque cai nos nossos colos fazer, porque o mundo acha que a gente faz por amor e generosidade”.
Mas a gente vai fazer porque tem quer ser feito. O homem não vai fazer, provavelmente. Estão homem e mulher em casa? A divisão das tarefas precisa ser igualitária.
Mas a mulher precisa saber seu lugar, seu valor, o que obviamente é difícil, nem todas são emancipadas o suficiente para fazer isso, porque é um ato de coragem. Você tem que estar totalmente emancipada para poder dizer ‘não’, não absorver todas as demandas que recaem sobre a gente.
Vivemos, há décadas, um distanciamento da natureza, dos nossos aspectos animais. Por exemplo, no livro como a amamentação aparece como rejeitada por ser um “virar de costas” ao capitalismo. Essa rejeição do que é natural é fundamental para que a gente tenha chegado nesse ponto de “exploração” das mulheres?
Sim. Temos que abraçar, sim, o que é intrínseco nosso. A amamentação, por exemplo, é um ato maravilhoso, nas melhores circunstâncias, num aspecto ideal de estar tudo certo com a mãe e o bebê. O melhor jeito de se alimentar, dessa forma, é mamando no peito da mãe. Mas, obviamente, quando falo que “a mulher que amamenta vira as costas para o capitalismo”, reproduzindo o que Alexandre Coimbra fala, é porque o tempo está sendo integralmente utilizando para cuidar, alimentar.
Você está fazendo algo que o capital não enxerga como produtivo. O trabalho reprodutivo não é reconhecido como algo produtivo.
O capitalismo só reconhece a pessoa que sai de casa para produzir para o sistema. Mas o mais importante, a virada de chave, é que todo mundo entenda que o trabalho reprodutivo é tão ou mais importante que o trabalho produtivo, porque ele é a base da nossa economia, sem ele não existe outros trabalhos.
Uma mulher que amamenta e cria um filho super bem, até os 18 anos, trabalhou de graça para o sistema de capitalista, dando ao sistema a força de trabalho de uma pessoa forte e saudável.
Isso precisa ser falado, visto, reconhecido. Se não, continuamos nesse lugar explorador. Precisamos reconhecer como estão sendo usados nossos corpos, nossa sabedoria, nossa generosidade.
Isso de remunerar o trabalho reprodutivo, do cuidado, não deixa de ser trazer mecanismos do capitalismo para dentro de casa. Me parece que você está propondo que joguemos com o capitalismo?
Exatamente isso. Isso era uma coisa que as pessoas questionavam. Mas eu dizia que do jeito que está, a única saída era chegar na remuneração. Sei que isso é uma coisa utópica, mas vale a gente levantar o tema, para que as pessoas comecem a reconhecer.
Então, acho que daqui a 20 anos, com pessoas imbuídas desse discurso, a ideia da remuneração não seria tão utópica quanto é hoje. O objetivo é que as pessoas comecem a reconhecer o valor do trabalho doméstico.
Dado o que a gente tem, o que podemos fazer, para viver melhor, é ter um trabalho remunerado. Mas isso é estar jogando com as cartas do capitalismo. Mas, se quiser saber a minha opinião sincera: aí acho que a gente precisa entrar numa questão bem mais profunda, e entrar na questão da família nuclear ocidental.
Essa ideia de família institucionalizada para fazer a economia girar. É como se fosse uma fábrica da força de trabalho. É bem: ‘argh’ [ri].
“A família nuclear ocidental é uma fábrica de produção de força de trabalho. A mulher cria o filho até os 18 anos e entrega essa força de trabalho para o sistema. E essa pessoa, esse trabalhador ou trabalhadora, o que tem que fazer? Tem que casar, ter filho, reproduzir mais uma vez para gerar a força de trabalho”.
Esse modelo, que achamos bem-sucedido de vida, nada mais é que reproduzir de graça para o sistema capitalista. Fazemos e trabalhamos de graça achando que estamos fazendo por amor, um amor incondicional, isso e aquilo…
Você já pensou assim?
Então, cara… Acho que reproduzi de olhos fechados. Não tinha a menor consciência de que estava imbuída nesse sistema e dançando a dança imposta. Só fui ter mais consciência de uns seis, sete anos para cá, quando comecei a ler, estudar, e falei: ‘gente…’ Essa instituição família [nuclear] é difícil, ficou difícil para mim.
A alimentação é um dos pontos chaves no livro para pensar essas dimensões todas. Você considera que só uma reavaliação da qualidade da nossa alimentação pode mudar esse cenário de desvalorização do trabalho doméstico, reprodutivo?
É interessante você usar essa ‘qualidade’ antes de alimentação, porque a alimentação nutritiva, de qualidade, de panela, é um direito nosso. Mas para a gente ter comida de qualidade, a gente precisa que alguém produza essa comida. Se não, vai ficar, de novo, a mulher sobrecarregada, tendo que fazer a comida, não queremos voltar a segunda onda do feminismo.
Então como que a qualidade da alimentação pode dar luz ao trabalho doméstico? Se a gente der valor para uma alimentação saudável, se as pessoas entenderem que é melhor para todo mundo ter uma alimentação de qualidade, vamos dar um valor melhor para quem faz a comida.
“Precisamos dar todos os acessos para que essa comida seja produzida. Precisamos dividir o trabalho doméstico entre os gêneros”.
Mas esse trabalho precisa também sair do âmbito doméstico e ser redistribuído pela sociedade, principalmente pelo Estado, que deve prover apoio ao trabalho doméstico. Se esse trabalho não é valorizado, a última coisa que o governo vai fazer é algo a respeito. Agora, se é valorizado, podemos ter mais creches, fortalecer a alimentação, ter mais cozinhas solidárias, lavanderias comunitárias, e por aí vai.
O trabalho doméstico será mais valorizado quanto mais a alimentação saudável também for valorizada. Cozinhar dá um mega trabalho. Mas se essas pessoas acharem que vale a pena trocar a comida de panela pelo ultraprocessado, não vamos sair do lugar.
Mas se reconhecermos que a comida de panela é melhor, vamos caminhar para a valorização do trabalho doméstico. Se um tem valor, o outro tem valor também. Se um não tem valor, o outro não tem valor. É uma ligação bem direta.
Essa discussão da valorização do trabalho doméstico tem mais chance de avançar no Brasil pela perspectiva do gênero, da alimentação ou da raça?
Tem que atacar todos os lados. Não tem como pensar em igualdade social, racial e de gênero sem pensar no trabalho doméstico. A maior parte das pessoas que estão na cozinha são mulheres pretas e pobres. Precisamos valorizar esse trabalho. Se ele fosse remunerado, conseguiríamos de um jeito rápido mudar a estrutura social.
Essas mulheres teriam mais voz, autonomia, independência e poderiam, por si só, escolher o que fazer. Porque, obviamente, quem está à margem acaba aceitando qualquer serviço por qualquer valor. Tendo a boa valorização do trabalho doméstico damos muito mais autonomia para essas mulheres. E atingimos uma maior igualdade.
Em certo ponto do livro, há o chamado “ponto cego” de uma onda feminista. Mulheres brancas saíram de casa para trabalhar fora e mulheres pretas ficaram. Você adjetiva o tema no livro como “espinhoso”. Por que a gente ainda teme fazer essa discussão e a chama de espinhosa?
Apesar do feminismo da segunda onda, que é branco, ter trazido muita coisa boa, para as mulheres, ele trouxe muito mais coisas boas para as mulheres brancas que pretas. Em todo esse avanço, das mulheres brancas saírem de casa para trabalhar, elas se esqueceram de perguntar como e onde estava o poder.
Era muito necessário que elas se questionassem esse lugar, porque acabaram reproduzindo o método de exploração do outro: no caso, a mulher preta e pobre, para que ela, mulher branca, chegasse ao poder.
“Para uma mulher branca ter se tornado CEO de uma empresa, para ela ter essa ambição do mundo branco, patriarcal, para ela atingir esse lugar, chegar lá, com certeza houve exploração de outra mulher, provavelmente ou preta, ou pobre, ou migrante, enfim”.
O sistema opressor continuou e funciona para o sistema capitalista. As pessoas não querem a emancipação do trabalhador, querem continuar com o trabalho sendo explorado. Se não, como vão acumular dinheiro? Não dá. Se a gente emancipa com conhecimento, com dinheiro, o trabalhador, o capitalismo dá uma desestabilizada.
Não é de interesse do sistema capitalista a emancipação do trabalhador. A gente só vai ter a classe de mulheres pretas emancipadas, valorizadas, quando a gente desmantelar esse sistema. Ou, vice-versa, nos reunimos, lutamos, e o sistema que se vire [risos].
O capitalismo não tem interesse em emancipar a classe trabalhadora. Só com ela o sistema sobrevive. Branca, no poder, beleza? Enquanto tiver mulher preta trabalhando, sendo explorada. É a única solução.
Isso pode ser uma “cilada” para os próprios empregadores que contratam as trabalhadoras domésticas? Por que seria interessante contratar uma trabalhadora emancipada que talvez não estivesse disposta a fazer certas coisas?
Sim. Por isso sou fã de uma questão mais socialista. Se a gente tivesse o mínimo, a renda básica, e não só ela, a educação, saúde… Se eu não tivesse que me preocupar em pagar escola, plano de saúde, transporte público seria maravilhoso. Se o estado provesse de maneira eficiente tudo isso, o custo de vida diminuiria muito.
A gente poderia trabalhar por menos tempo, porque teríamos que pagar menos coisa. A gente precisa desse suporte do Estado para que nosso custo de vida diminua. A gente precisa de uma diminuição da exploração de trabalho pela empresa: diminuir a jornada de trabalho para 4 dias, por exemplo, como vem sendo testado em países como Portugal.
Um dia a mais de folga seria maravilhoso, para quem sabe, cuidar da casa, não ter uma pessoa ganhando mal para cuidar da casa enquanto estamos fora.
Por isso que não há uma solução, mas muitas pecinhas que precisam se encaixar para uma vida mais autônoma. E uma renda básica universal, para a gente ter como escolher, para ficarmos em casa sem culpa, fazer o trabalho reprodutivo, o doméstico, com mais gosto, porque você está mais descansado, mais livre.
Todo mundo seria mais feliz. Mas estamos num sistema que precisamos nos doar o máximo, produzir o máximo num curto período de tempo. Ai você vira um puta profissional, mas a custa de quem? A gente pode produzir menos e viver mais.
“Se as pessoas tiverem essa mentalidade, não de produzir, produzir, para acumular… Vamos viver mais, de uma maneira mais igual, sem tanta desigualdade”.
As pessoas só não querem porque querem manter a desigualdade para explorar o trabalhador e acumular mais dinheiro. Se essa lógica não sair da nossa cabeça, realmente não vão querer, a nível individual, que a empregada doméstica tenha possibilidade de dizer que não precisa daquele trabalho e vai fazer faculdade.
Esse conceito de “rede de apoio” tem sido bem problematizado. Temos visto, sempre, mulheres sendo criticadas por outras mulheres por falarem das trabalhadoras domésticas como “rede de apoio”. Você enxerga problemas nesse uso?
Pode ser meio como a história do pai que ‘ajuda’, né? [risos] Não sei, talvez eu não tenha esmiuçado o termo de uma maneira mais profunda. Mas enxergo a rede de apoio como recursos humanos necessários para criar uma criança, bem no estilo daquele provérbio africano de que é preciso uma aldeia para criar uma criança.
Começo, no livro, reconhecendo e agradecendo: só estou aqui porque tive apoio remunerado e não remunerado no cuidado das crianças, da casa, de tudo. Se não, seria inviável estar onde estou. Não conseguiria chegar onde cheguei.
Não tenho uma crítica ao termo. Mas eu acabo não usando esse termo mesmo, porque acho que a rede de apoio é muito maior, transcende o doméstico: é toda a estrutura social. Transporte público é rede de apoio, creche é rede de apoio. Então, é muito mais amplo que só as pessoas que estão dentro da nossa casa.
Em meio a esse debate fundamental sobre o trabalho doméstico, você se coloca ainda como mulher que reflete outros temas e todos, me parecem, terminam na liberdade, como relacionamento aberto. Como tratar com temas considerados “tabus” com as crianças?
Minha relação com minha filha é muito maravilhosa. Agradeço todo os dias pelo vínculo afetivo que a gente tem. A gente troca muito. Eu, obviamente, mudei bastante desde que eu a tive, com 20 anos. Desde então, fui construindo e elaborando muitas ideias. E é o que eu passo para ela como adolescente. Minha visão de hoje se espelha na educação dela. Essa questão de liberdade afetiva, sexual, tudo isso ela respira como natural.
“Não existe tabu. São temas que a gente trata com muita tranquilidade. Porque eu acho que tem que ser. Não quero carregar a culpa, a vergonha, que são instrumentos de manipulação e controle social que só limitam a gente. Tento criar com um olhar mais libertador nesse sentido: ‘vai, filha, vai sem culpa, você pode gostar de quem você quiser'”.
Obviamente que tem limites e questões em termos de educação, do que é melhor para a integridade dela. Mas se não atrapalha a integridade dela, é muito mais liberdade que culpa e vergonha.
Aproveitando que você falou da condução da edução. E como equilibrar esse respeito à individualidade e liberdade de um filho com as exigências da educação diária?
Isso eu trouxe muito da minha educação. Meus pais entendem que a gente coloca um filho para o mundo, não necessariamente para eles. Eu sou uma pessoa um tanto desprovida de posse. Falo que ela é minha filha, óbvio, porque é. Mas ela não é minha. Ela é do mundo.
Agora mesmo, com 14 anos, ela está no Rio de Janeiro, morando com a tia. Porque lá ela fica mais perto do avô [Gilberto Gil], do estúdio, da música. Profissionalmente, para ela, é melhor que ela esteja lá. E ela prefere estar lá. Então, a gente tem que respeitar e ouvir bastante.
 |
| Bela e Flor Gil (Foto: Reprodução/Instagram) |
Na sociedade, vemos educação muito mais como algo autoritário, e acho que não precisa ser assim. Pode ser equilibrado para que a gente ouça mais, respeite mais essa fala, ao invés de só falar. Ouve, sem julgamento, depois a gente elabora e conversa.
“Então, é isso: ela traz um desejo dela, eu escuto, elaboro, e digo: ‘acho que pode ser, acho que não pode ser’. Existe um diálogo, é o mais importante. É criar um filho sabendo que ele é um indivíduo com gosto, escolhas e desejos muito particulares”.
Eu estou aqui para apoiar e instruir da melhor forma, como eu acredito ser bom para ela e para ele. Sem jamais impor um desejo meu em cima deles. Não. Isso eu acho que acontece bastante. Mas consigo distanciar o que é um desejo meu e os desejos deles.
Acho isso fundamental: que pais e mães entendam os filhos como indivíduos que têm desejos próprios.
Isso que você fala, que parece ser o natural, é visto como “desconstrução”, uma maternidade ou paternidade desconstruída. Você se vê nesse lugar de as pessoas te acharem uma ‘mãe desconstruída’?
[risos] Talvez seja fácil porque eu não percebo essa desconstrução. Não faço por rebeldia. É intrínseco meu. A minha maternidade é muito orgânica e intuitiva. Muito, muito. Lembro do Nino bebê, ele dormia comigo, nunca teve quarto, mamou até os três anos, tive ele em casa. Foi uma coisa intuitiva. Depois eu fui ler e tinha nomes para isso: cama compartilhada, sei lá o quê. Gente, então as pessoas estudam isso.
Para mim era tipo: ‘foi’ [risos]. A minha construção já é pautada numa desconstrução. Não vejo fazer diferente como ser rebelde. Eu vou no fluxo e o meu fluxo, de uma certa maneira, é diferente do tradicional. Isso eu reconheço. Mas é natural. Não tenho que me esforçar muito para absorver ideias que eu acho que é melhor para eles.
Certamente eles vivem em ambientes onde há bastante presença de trabalho doméstico, de cuidado, remunerado ou não. Como, nas experiências mais tenras das crianças, fazê-las reconhecer o lugar do trabalho do cuidado?
Mostrar que é um trabalho: ‘Mamãe sai para trabalhar e Vanessa vem trabalhar aqui para que mamãe possa sair para trabalhar’ [risos]. Como eu disse, minha maternidade é intuitiva. Os dois, desde pequenos, estão sempre na cozinha comigo. Eu, mesmo trabalhando bastante, estou um tempo considerável fazendo comida em casa.
Nosso café da manhã: eu acordo todo dia para levar eles na escola, a gente acorda, faz café, panqueca. Então eu fazia panqueca, Flor lavava algo. Desde pequenininhos, eles estão comigo na cozinha e aprendem isso de uma maneira natural.
A Flor, por exemplo, quando estava aqui, às vezes eu chegava aqui, exausta, ela dizia: ‘mamãe, fiz um macarrão com molho pesto’ e oferecia. Ela ia para cozinha. Às vezes, ela dizia que estava com fome e pedia algo. Ai eu ia e fazia, mas às vezes eu estava exausta e dizia para ela fazer.
Ela entende que se há uma comida feita em casa, houve esforço de alguém – dela, meu ou da empregada doméstica. Não é algo dado, existiu esforço para a comida chegar ali.
Por exemplo, o Nino outro dia foi comer uma sopa, que a Vanessa tinha feito. E ele amou a sopa. E eu: ‘tá vendo, Nino. Foi a Vanessa que fez, ta muito boa, né?’. Para ele entender que existe essa divisão. Para ele entender que é algo necessário dentro de casa, mas não está só na minha mão.
Tem alguém trabalhando para fazer aquilo acontecer. Não dou o crédito para mim e acho que isso acontece muito, às vezes. ‘A comida está boa, Nino? Você tem que agradecer a Vanessa’. Acho que são esses pequenos detalhes do dia a dia que fazem a diferença para a pessoa crescer dando valor.
Às vezes ele quer um suco, aí eu, cansada, digo, levanta e vai lá pegar. Ai ele: ‘ah, traz aqui’. Ai eu digo: ‘Nino, você tem que aprender [risos]’. Se não é só o ‘venha a nós’ e não é assim a vida. Eu faço isso [risos].
Esse momento com sua irmã Preta Gil, diagnosticada com câncer, ressignificou em você outras formas de cuidado?
Esse momento mostra que o cuidado requer muito esforço e muito tempo. Muito tempo. Obviamente eu gostaria de estar muito mais com ela, embora, sempre que eu esteja no Rio, eu fique com ela. Agora ela está em São Paulo e estivemos juntas no fim de semana. Mas se eu tivesse a possibilidade de parar de trabalhar e ficar com ela, seria maravilhoso, adoraria, mas eu não posso, porque preciso pagar as contas.
 |
| Bela, Preta Gil e família (Foto: Reprodução/Instagram) |
Mas a gente vê como esse trabalho é importante e requer tempo. E o sistema está sempre contra. Então, como fazemos essa equação? Preta está doente, é um processo difícil para todo mundo, principalmente para os próximos. O que eu quero dizer é que as pessoas reconhecem essa doença, as pessoas reconhecem a dor que é.
“Estou falando isso porque se fosse uma questão de saúde mental, como uma depressão, uma crise de ansiedade, crise do pânico, qualquer coisa, não dariam o mesmo valor”.
Hoje, se eu falar que não vou trabalhar porque tenho que estar, não sei, com um familiar fisicamente doente: isso é beleza. Mas se eu falar que não posso trabalhar porque minha filha esta com uma questão que precisa da mãe. As pessoas ainda não entendem.
“Então ainda há essa questão. Precisamos valorizar tanto o cuidado como as questões de saúde mental que requerem cuidado. Isso é algo que acho ainda é muito estigmatizado e dificulta muito a vida de muitas pessoas: tanto de quem precisa cuidar quanto de quem precisa ser cuidada”.
Graças a Deus, não tenho questão na minha casa. A adolescente aqui de casa está muito bem, agradeço todos os dias por isso, porque sabemos do adoecimento de muitos adolescentes. Mas falo isso por empatia com pessoas que passam por isso. É algo que precisamos lutar.